Neste período carnavalesco, já quase dentro do ciclo denominado pelas liturgias de quaresmal, período este onde as Igrejas praticamente abandonam a Graça e iniciam um "culto ao pecado", sobretudo de ordem moral sexual (como se roubar, iludir e enganar as massas não o fossem), gostaria de fazer uma reflexão acadêmica sobre a possibilidade do pecado. A discussão sobre o pecado é uma velha discussão da teologia modernista do início do século XX. Afinal, podemos ou não pecar. Apresentamos uma reflexão, a resposta é de cada um. Confiram...
INTRODUÇÃO
Tratar de moral é sem dúvida, por si,
um desafio, numa realidade marcada por um anomismo axiológico gritante. Tratar
de pecado, então, nem se fale! É justamente esta a pretensão deste artigo: se
debruçar epistemologicamente sobre o conceito e a possibilidade do pecado e sua
direta conseqüência a conversão, dentro do âmbito da moralidade cristã.
Tomando
como ponto de partida uma visão dogmática, delimitar-se-á os contornos dos
quais são envolvidos o conceito de pecado. Nesta assertiva, tocará, mas sem
pretensão de resolução, na questão do mal. Em seguida, enumera os desafios no
diálogo com o pensamento moderno em suas principais correntes: marxismo,
psicanálise, existencialismo, secularização e ceticismo e relativismo.
Percebendo
as limitações da modernidade, trava-se um diálogo com esta mediante o
posicionamento da teologia moderna e por último como tentativa final discorre-se
a relação com a ontologia antropológica.
Ao tratar de uma temática tão
polêmica na atualidade é importante lembrar que aqui não se trata de um tratado
do mesmo, muito menos se tem a pretensão de esgotar o assunto. Porém, algumas
implicativas podem ser apercebidas sobre o assunto de forma a levantar alguns
questionamentos.
O que se pretende neste tópico é, de fato, se
perguntar pela própria possibilidade do pecado, levando em consideração tanto a
posição oficial da ortodoxia das Igrejas denominadas Católicas, quanto às críticas trazidas
pela vida contemporânea; e, principalmente, como hoje se pode pensar nesta
limitação. Não se quer aqui negar nenhuma verdade da fé, mas mediante
questionamentos racionalizar tal fé, em seu âmbito moral, a ponto dela mesma
emanar a luz necessária para sua auto-compreensão.
Não
se poderia iniciar este estudo sem primeiro consultar a visão daquela que é por
excelência, a depositária da fé, i. é, o Magistério da Igreja – um dos pilares
que compõe a tríplice base[1]
da teologia. Ao que diz respeito à doutrina contida no Catecismo da Igreja
Católica, a constatação é de que é inegável, olhando fenomenologicamente para a
realidade, a existência do mal:
[...] ninguém escapa à
experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza – que aparecem como
ligados às limitações próprias das criaturas –, e sobretudo à questão do mal
moral (Cat 385)
A
mirada para a realidade leva a percepção da existência fenomenológica do mal,
seja físico ou moral. Não é papel deste estudo se fixar ou elucidar a
problemática do mal, contudo, se faz necessário tocá-lo de modo, não
explorá-lo, mas como uma implicativa para o estudo do pecado. Neste sentido,
prossegue o Catecismo afirmando que é preciso abordar a questão da origem do
mal se atrelando ao “olhar da nossa fé” (Cat 385) como modalidade de abordagem
de tal questão. Mais precisamente, só se pode falar de mal e sua origem, se se pisa
no horizonte da fé, sem ela as questões passam a ser problemáticas.
Assim,
é traçada a pergunta fundamental a respeito do mal: “Se Deus Pai todo-poderoso,
Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que
então o mal existe? [...]” (Cat 309). Esta pergunta, trazida pelo Catecismo,
não é uma questão nova. Tal intento já foi debruçado por grandes pensadores –
teólogos e filósofos – de todas as épocas e continua ainda sem uma resposta
satisfatória. Mesmo assim, o Catecismo, do ponto de vista da doutrina da Igreja
Universal, traz a sua resposta: “Não há nenhum elemento da mensagem cristã que
não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal” (Cat 309). O que se
pode apreender sobre tal resposta pode tramitar em dois âmbitos: ou o mal é uma
realidade já dada, e não há necessidade de tal especulação, já que a intenção
da fé está em se vincular ao seu autor muito mais do que seu opositor; ou o mal
é uma condição necessária da própria mensagem cristã, já que toda ela responde
a seus anseios.
Mesmo
sem uma resposta satisfatória, continua o questionamento: “Mas por que Deus não
criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum?” (Cat 310). Tal
questão é o reflexo do pensamento tomista[2],
que ao postar tal pergunta, já cita seu principal pensador para respondê-lo:
Segundo o seu poder infinito,
Deus sempre poderia criar algo melhor [S. T. 1,25,6]. Todavia, na sua sabedoria
e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminhada
para a sua perfeição última. Este devir comporta, no desígnio de Deus,
juntamente com o aparecimento de determinados seres, também o desaparecimento
de outros, juntamente com o mais perfeito também o menos imperfeito, juntamente
com as construções na natureza também as destruições. Juntamente com o bem
físico existe, portanto, o mal físico, enquanto a criação não houver atingido a
sua perfeição (S. Tomás. Summa contra
gentiles 3, 71 apud Cat 310)
Apostando
no devir eterno tomista, i. é, no processo dinâmico de perfeição, o Catecismo
justifica a existência do mal perante a onipotência divina. Isto quer dizer que
não há contradição entre o poder infinito de Deus e a maldade existente no
mundo, pois o mal, e neste caso se trata do mal físico, faria parte da
pedagogia divina no processo de elevação da criatura à perfeição. Mesmo assim,
poderia se questionar: por que Deus, com todo seu poder e ciência, quis
insistir em tal pedagogia com as criaturas, sabendo ele que poderia já ter
feito o melhor? Ou por que ele, durante este processo, insistiria em tal,
sabendo do risco de perder uma de suas criaturas? Será que haveria algum erro
no ato criador, pois da necessidade de aperfeiçoamento? Neste processo onde
ficaria a liberdade daquelas criaturas que desejassem não evoluir?
Contudo,
citando Tomás, o Catecismo se fixa no mal físico. Porém, a questão do pecado
não está totalmente vinculada ao mal físico, mas ao moral, como já citado [Cat
385]. Para tanto, se utiliza de Agostinho para versar sobre o mal moral:
Os anjos e os homens, criaturas
inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino ultimo por opção livre e
amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se. E de fato, pecaram. Foi assim
que o mal moral entrou no mundo, incomensuravelmente mais grave do que o mal
físico. Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal
moral (AGOSTINHO. De libero arbitero.
1, 1, 1 apud Cat 311)
São
nestes termos que a doutrina da Igreja Universal, utilizando o agostinianismo[3],
utiliza para justificar o mal moral. É através do modo como se faz uso do
livre-arbítrio que se pode postular o mal moral, i. é, o próprio pecado. Mesmo
assim, ao pensar em Agostinho, também não se pode esquecer que tal pensador e
doutor da Igreja tenha se debruçado na tentativa de explicar a origem do mal:
Quem me criou? Não foi o meu
Deus, que é bom, e é também a mesma bondade? [...] Donde me veio, então, o
querer eu o mal e não querer o bem? [...] quem colocou em mim e quem semeou em
mim este viveiro de amarguras, sendo eu inteira criação do meu Deus? [...] Se
foi o demônio quem me criou, donde é que veio ele? [...] E se, por uma decisão
de sua vontade perversa, se transformou de anjo bom em demônio, qual é a origem
daquela vontade má que se mudou em diabo? [...] confessava que Vós, quem quer
que fôsseis, não estava sujeito à corrupção [...] sumo e óptimo Bem. [...]
porque tudo o que deseja é bom e Ele próprio é o mesmo Bem [...] estar sujeito
à corrupção não é um bem. [...] Ele é bom e por conseguinte, criou boas coisas
[...] Onde está portanto o mal? Donde e por onde conseguiu penetrar? Qual a
raiz e a sua semente? Porventura não existe nenhuma? Por que recear muito,
então, o que não existe? [...] Por conseqüência ou existe o mal que tememos ou
esse temor é o mal. (AGOSTINHO. Confissões.
Livro 7)
Sua
conclusão, portanto é que, o mal metafísico não pode existir, se existisse
teria de ser um bem. Por isso, o mal não pode existir em si, mas como “privação
do bem” e a maldade seria, portanto, uma
perversão da vontade desviada da substância suprema. Se tais argumentos
postulados acima procedem, ou seja, que a privação física não justifica o
pecado, já que a onipotência divina não precisaria necessariamente de tal
artifício para que as criaturas fossem melhores do que já são; que a privação
metafísica não justifica o pecado, já que causaria uma contradição lógica e
ontológica na própria concepção de Deus; restaria apenas a privação moral como
tentativa de se postular a possibilidade do pecado.
Outra
leitura é possível de ser feita. Sung (1995), ao postular a pergunta: Se Deus existe,
por que há tanto sofrimento no mundo? Tenta responder, não como fez os antigos,
colocando a onipotência divina como critério para a existência do pecado, mas
citando a primeira carta de João (I Jo 4,7-8) toma por critério o Amor de Deus:
Se Deus existe, ele é bom
(amor) e onipotente. O problema é saber qual destas duas características é a
fundamental. Na argumentação acima, a onipotência é apresentada como
fundamental. Mas, em São João ,
como em todo Novo
Testamento , Deus é mostrado acima de tudo como Amor e não
como onipotência. (SUNG, 1995)
Mediante
tal dilema, Sung (1995) explica que colocar o poder acima do amor desrespeita a
liberdade do outro e impõe a própria vontade: “Quanto mais poder tiver alguém,
mais solitário será”. Nesta lógica, mesmo que Deus possa fazer tudo o que
deseja, mas o seu amor pela criatura lhe impõe um limite em seu poder, já que,
“só na liberdade o amor pode florescer”. Sendo assim, Deus não é responsável
pelos sofrimentos, mas estes são fruto da liberdade humana
Com efeito, tomando o argumento de
Agostinho sobre o mal moral e o de Sung (1995), ambos defendem a idéia da
liberdade humana, seja por onipotência divina seja por amor supremo. Contudo,
cabe um questionamento: sendo o homem livre, por que este cometeria um mal
moral, como sinônimo de pecado, se tal condição livre permite ao ser que a contém,
a opção de escolher a moral que lhe convêm? A pergunta forçaria uma definição
precisa dos princípios desta moral, de modo que, favorecesse as condições de se
extrapolar tal moral em níveis éticos. Entretanto não é o trabalho deste
estudo, nem caberia aqui, tal tipo de elucidação, ficando, portanto, postada
apenas a pergunta inicial.
Como já dito anteriormente, a questão
do mal não é objeto primeiro deste estudo, mas foi preciso tocá-lo, principalmente
em sua problematicidade, para poder falar de pecado. Citando ainda o Catecismo,
este afirma que: “o pecado está presente na história do homem: seria inútil
tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes.” (Cat 386). Esta
afirmação procede a partir das críticas feitas pela modernidade à Igreja frente
ao conceito de pecado, o que será visto.[4]
Acrescenta ainda o Catecismo:
Para tentarmos compreender o
que é pecado, é preciso antes de tudo reconhecer a ligação profunda do homem com
Deus, pois fora desta relação o mal do pecado não é desmascarado na sua
verdadeira identidade de recusa e oposição face a Deus [...] Sem o conhecimento
que ela [a Revelação divina] nos dá de Deus não se pode reconhecer com clareza
o pecado, sendo-se tentado a explicá-lo unicamente como uma falta de
crescimento, como uma fraqueza psicológica, um erro, a conseqüência necessária
de uma estrutura social inadequada, etc. somente à luz do desígnio de Deus
sobre o homem compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às
pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente (Cat 386-87)
Com
tal afirmativa, a doutrina oficial da Igreja justifica a possibilidade do
pecado fazendo o mesmo que fez Agostinho ao postar a liberdade, ou seja, atrela
a estrutura antropológica à Deus. O homem só é visto como tal a partir de sua
relação com seu criador, o que o condiciona em todas as suas possibilidades:
plenitude, moral, liberdade, autonomia entre tantas, ao seu fim último. Assim,
o pecado seria uma afronta à própria estrutura ontológica subjacente neste
homem.
Neste
mesmo sentido caminha o conceito de pecado dado por Rahner e Vorgrimler (1966,
p. 534): “Em sentido pleno (pecado
mortal), Es la decisíon libre, existencialmente radical, contra el orden de La
naturaleza y la gracia y contra la voluntad de Dios manifestada en la
revelación oral”. Tais
autores têm como base a livre e radical decisão do homem contra a sua própria
natureza e contra a vontade de Deus. Com efeito, o pecado se torna possível,
mesmo contra a essência humana: “en
cuanto hecho real, queda testificado por la experiência de la propia libertad y
por la palabra de la revelacíon” (RAHNER e VORGRIMLER, 1966, p. 534).
A problemática deste tipo de conceber o pecado
está na pergunta pela estrutura ontológica que subjaz a estrutura antropológica
intrínseca ao modo fenomenológico de se dar o ser humano. Em se tratando de um
ser cristão, na qual a fé é pressuposto para os conteúdos aqui mencionados, não
há tanto problema; mas em se tratando do homem em si, de modo a apreendê-lo em
sua generalidade, então os entraves estão postos. A pretensão cristã, ao que se
posta, não é de restringir os conteúdos da revelação apenas ao seu reduto, mas
é condição de possibilidade para a salvação do próprio homem. Mas como pensar
que tal singularidade ontológica possa ser posta a todos os homens sem
distinção? Atinge-se neste ponto as controvérsias com a modernidade.
Para
tratar dos desafios provocados pela modernidade no campo da moral cristã,
principalmente no que se refere ao mal moral, tratado aqui também como sinônimo
de pecado, recorre-se às reflexões de Azpitarte (1983). Afirma este que já
existe por parte dos modernos um forte “sentimento de rejeição e agressividade”
(AZPITARTE, 1983, p. 211) quando se fala da moral, como se nela já incluísse,
implicitamente algo negativo ou privativo. Contudo este sentimento ainda não é
o mais preocupante, já que, o cume deste comportamento está no se postar
indiferente à questão: “(...) perda absoluta de interesse, negando-lhe qualquer
importância para a vida real” (AZPITARTE, 1983, p. 211). Contudo, este
sentimento não se manifesta por razões de ordem laxista ou maldade intrínseca
do ser humano enquanto tal, mas como crítica profunda à moral, que de acordo
com tal autor, deve ser aceita com certa humildade por ter ela uma base real e
objetiva.
O
grande alvo das críticas à moral cristã está no fato desta se configurar como uma
espécie de “pecadômetro”, na qual implicam uma série de códigos de normas e
preceitos que apontam a licitude ou não de um ato (AZPITARTE, 1983, p. 214).
Neste sentido, as críticas feitas, com diferentes criteriologias, subjazem em
fundamentos que desconstroem tanto o terreno da moral cristã, quanto a
antropologia utilizada para esta moralidade - e conseqüentemente a noção de
pecado -, colocando em questão, todavia, a própria possibilidade da ética.
A
primeira denúncia citada por Azpitarte (1983) provém do marxismo[5]:
Para o marxismo, o fundamento
último de qualquer ideologia se encontra no mundo das relações econômicas. A
religião e a moral, como a filosofia e a arte, não passam de formas e
expressões da consciência social, que correspondem a uma determinada situação
econômica. O mundo do proletariado, submerso na exploração e na miséria,
precisa criar uma religião que lhe sirva de alívio e narcótico para suportar
esse sofrimento (AZPITARTE, 1983, p. 216).
Nesta
síntese do pensamento marxista, tal autor, posta muito bem a crítica feita por
este movimento, i. é, a religião e a moral não passam de uma mera produção
social capaz de amortecer as consciências fatigadas pela opressão provocadas
pelas injustas relações econômicas. E continua:
Do mesmo modo, encoberta sob o
idealismo e os bons sentimentos de alguns princípios morais, há uma sociedade
deteriorada pela injustiça e o egoísmo. Com a ingênua ilusão de obedecer a
certos valores éticos se mantém e defende uma realidade desonesta. Ao invés de
ser um grito de protesto, a moral se faz mentira e alienação, pois, no fundo, a
única coisa que procura, criando uma consciência inocente como verniz, é manter
a ordem estabelecida, em proveito da classe dominante. As exigências do dever
não estão cheias de conteúdo ético, mas sim de esquemas racionalizados pelo
mundo burguês, em função de seus interesses exploradores (AZPITARTE, 1983, p. 216-17).
Com
tal argumento: fundamentação ideológica da moral como mantenedora da ordem
social estabelecida pela elite dominante, o marxismo convence que a moral não
passa de um instrumento nas mãos “dos grandes” para controlar “os pequenos”.
Com efeito, pergunta-se: como poderia haver pecado, em sentido de desagravo
moral, numa sociedade já estruturada na injustiça? Pecado não seria a
concordância com tal moral? Se o pecado deve pressupor um ato livre e
consciente que vai contra a natureza humana e conseqüentemente contra a vontade
de Deus, como ser livre numa sociedade já condicionada por relações economicamente
ilícitas à própria natureza humana, na sua condição de competição e
concorrência? Mesmo aqueles que estão à frente de tal lógica, será que eles
pecam por apenas dar continuidade à engrenagem do sistema? Há liberdade
suficiente para que haja mobilidade interior a ponto de ocasionar uma reversão
da lógica econômica? Estas são alguns dos questionamentos que podem ser
pensados a partir da crítica marxista da moral cristã.
A
segunda categoria de crítica feita à moralidade cristã advém da psicanálise[6]:
Através da psicanálise,
tenta-se uma redução da moral religiosa não às estruturas econômicas, como em
Marx, mas sim às forças e mecanismos de nosso mundo inconsciente. Sua denúncia
também se volta contra uma falsa ilusão cujas raízes se escondem na
complexidade de nossa psicologia. Afogado nos problemas e dificuldades da vida,
o homem necessita encontrar uma solução adequada para todas as frustrações e
limites da realidade. Na infância, esses problemas eram resolvidos pela
presença todo-poderosa das pessoas adultas, especialmente os pais (AZPITARTE,
1983, p. 218)
Aqui,
o autor sintetiza aquilo que é lateralmente o oposto ao marxismo. Enquanto que aquele
sobrecarregava todos os limites nas estruturas externas da realidade, este, por
sua vez, supervaloriza a interioridade da realidade. E segue:
As limitações não aceitas
servem para culpar as pessoas que nos cercam e para encontrar um além que nos
ofereça tudo o que nos falta aqui nesta terra, e nenhuma outra forma de cultura
compensa a privação e a renúncia com a ilusão de um Deus bom e providente que
certamente nos recompensará. Assim, nos encontramos diante de um simples
mecanismo de defesa para nos protegermos das ameaças que nos vem do destino –
sobretudo da morte – e das privações impostas pela civilização (AZPITARTE,
1983, p. 218)
Com
tal argumento, traça a critica à moral cristã mediante a projeção psicológica
da não aceitação da limitação a um ser que tudo provê, ou seja, Deus. Este tipo
de moralidade é prejudicial ao ser humano, já que não dá condições ao ser
humano de aceitar sua limitação natural, mas busca a perfeição que não tem em
algo fora de si, com intuito de culpá-lo ou gratificá-lo (Deus ou o Diabo).
Sendo assim, o que seria o pecado? O sentimento de culpa provindo de um não
cumprimento moral pode ser considerado pecado, quando na verdade é a própria
não aceitação das frustrações e limitações pessoais? Pode haver liberdade para
pecar em um sistema montado a partir da causalidade estrutural do inconsciente?
Estes, também são alguns, das várias questões provindas da psicanálise.
A
terceira categoria de crítica tem como base o existencialismo[7]:
Em nome da dignidade da pessoa,
rejeita-se toda idéia de Deus e de moral como um atentado contra a autonomia
humana. O maior fracasso consiste na renúncia à nossa liberdade, quando
procuramos encontrar nas normas uma segurança infantil que impede a verdadeira
decisão. Como o esquiador na neve, a consciência deveria ir se desligando de
todo apoio ético para não ficar paralisada. Somente ela, sem medo da liberdade,
pode trilhar o seu próprio caminho (AZPITARTE, 1983, p. 219).
Com
esta síntese, a grande crítica à moral é posta mediante a autonomia da
subjetividade humana em forma de liberdade. Somente a liberdade pode garantir
ao homem algum respaldo seguro de seus atos, já que é a sua consciência a protagonista
de sua história. Nestes termos segue o autor:
Esse receio da universalidade
de alguns princípios que dominam o homem em sua originalidade mais radical fez
surgir a ética de situação. Ela constitui um protesto contra a excessiva
submissão do homem à norma, esquecendo-se das peculiaridades e circunstancias
de cada indivíduo. O caráter absoluto da obrigação reduzia o papel da
consciência a uma simples computadora de
dados, sem deixar qualquer margem para a criatividade. E isso implicava na
negação de um direito inviolável: a capacidade de julgar e escolher segundo o
ditame pessoal próprio de cada um (AZPITARTE, 1983, p. 220)
Com tal afirmação o autor
levanta a bandeira principal da crítica à moralidade cristã pelo
existencialismo. A pretensão cristã tem por natureza o caráter universal, na
qual todos devem tê-la como modelo e exemplo. É justamente neste ponto que o
tocante existencialista afronta a moral cristã. Com o advento da subjetividade
é possível perguntar: existe algo realmente objetivo? Como é possível pensar,
de um lado, normas de condutas, que possam ser extrapoladas a toda uma humanidade?
Como pensar, então, o pecado, se cada indivíduo é construtor de sua história e
tem como exercício de sua autonomia o seu direito de escolha? O que
fundamentaria o pecado, a simples categoria subjetiva da culpa? O pecado, como
categoria de mal moral, não deve se posterior ao homem e não o seu inverso?
Estas são algumas contribuições feitas pelos existencialistas.
A quarta categoria de reflexão
tem como fundamento a secularidade:
A hipótese de Deus não é
essencial para a explicação das realidades humanas. O mundo já alcançou sua
maioridade e reclama sua independência de toda vinculação religiosa e
metafísica. O bom e mau continuam tendo sentido, mesmo não existindo Deus.
Trata-se de uma tentativa de arrancar o universo da esfera do sobrenatural para
encontrar nele o seu próprio sentido e significação (AZPITARTE, 1983, p. 222).
A crítica advinda da secularização
tem sua pertinência no sentido que retira do âmbito religioso certas categorias
que devem por si ter sua independência, como as ciências, a filosofia, a política
a sociedade entre outras. Assim também, a moral reclama para si uma
independência frente à religião, se auto-afirmando suficiente para que os
princípios, critérios e valores que norteiam a vida, os comportamentos e as decisões
do homem possam se validar em fundamentos sólidos. Com efeito, se o pecado está
ligado a uma concepção antropológica, que tem como pressuposto a fé e sua
ligação com Deus, como pensar em tal conceito em uma moral que não se vincula
às questões religiosas? Se as categorias de bem e mal são independentes da
existência ou não de Deus, onde se localizaria o pecado? Mesmo como mal moral, seria
necessário tal conceito de pecado, numa moralidade desvinculada da divindade?
Estas são algumas das questões que podem ser refletidas a partir da
secularização.
A quinta categoria provém do
ceticismo e do relativismo:
A moral, como ciência, também é
repelida por todos aqueles movimentos que, de uma ou de outra forma, só admitem
como critério orientador a urgência e necessidade de uma convivência.
Renuncia-se à busca de valores universais. Concretamente, cada grupo ou
comunidade deveria determinar quais são as regras fundamentais a obedecer para
que a coexistência entre os diversos membros se torne possível. Não há outra
forma além do acordo mútuo. Os estudos etnográficos e as análises de outras
culturas, diferentes da nossa, fomentaram esse sentido relativista, pois não
existe uma ordem ética que tenha vigorado em todos os povos e épocas. Então,
qual a força e permanência que tem os chamados “valores morais”? Eles são
produtos exclusivos de uma cultura determinada ou até que ponto a cultura pode
influir em sua formação? (AZPITARE, 1983, p. 223).
Nesta crítica, a tônica está no
aspecto comunitário e construtivo do grupo que elabora seus costumes. Aqui,
também, está a discussão da anterioridade entre a cultura e amoral. Estão
incluídos também neste grupo os lingüistas defensores dos jogos de linguagem,
na qual, todo pensamento é anteriormente precedido por uma comunidade
lingüística que o determina. Com tais pressupostos, questiona-se: não seria o
pecado uma construção de uma comunidade que se utiliza do poder performativo da
linguagem? No âmbito cultural, cada cultura não formularia seu conceito de
pecado? Como pensar em uma noção universal de pecado, como mal moral? Estas são
algumas contribuições de tal movimento.
Mediante os desafios da
modernidade apresentados, na ótica de Azpitarte (1983), levando em
consideração, também, as ponderações de cada categoria, não absolutizando-as,
mas concebendo-as como um conjunto fenomenológico do pensamento moderno; resta
o questionamento: pode hoje, ainda, se falar em pecado? Como tentativa ainda de
colocar as possibilidades da existência do pecado, passa-se para o estudo teológico
do pecado, não mais de forma dogmática, como foi visto acima com o Magistério;
entretanto de maneira dialógica com a modernidade.
Para abordar este diálogo
teológico frente aos desafios da modernidade, será utilizada as reflexões de Agostini
(2002). Em consonância com o Catecismo da Igreja Universal, Agostini (2002)
inicia sua reflexão mediante a fenomenalidade do mal, principalmente após os
avanços da tecnologia moderna:
Com as técnicas modernas e respectivos
conhecimentos científicos, o ser humano tornou-se capaz de intervir na
natureza; transforma-a, submete-a, manipula-a, busca conhecer os seus segredos.
[...] No entanto, esta intervenção
mostrou-se ambivalente. Por um lado, o ser humano foi capaz de dotar a
humanidade de benefícios extraordinários. Por outro lado, na medida em que sua
intervenção mostrou-se voraz e desequilibrada, saltou nossos olhos a sua
capacidade de depredar e destruir além dos limites ecologicamente suportáveis.
[...] O mal, sob formas variadas faz-se presente. [...] Constatamos um
desequilíbrio do que é vital para nós. [...] Este cenário coloca a modernidade,
tão ciosa de sua emancipação, em
crise. Na realidade, nos deparamos com um ser humano
abandonado num caminho sem suporte adequado, passível de muitas quedas e
capitulações, presa fácil de forças hegemônicas e muito bem aparelhadas que
desejam sugá-lo sem escrúpulos, amarrá-lo em função de interesses traiçoeiros,
ajustando-o e acomodando-o como peça do sistema, rebaixando-o assim ao estado
de “objeto” (AGOSTINI, 2002, p. 119-120).
Neste sentido, o autor rebate a
modernidade que prometeu a felicidade ao homem, mediante suas parafernálias
tecnológicas garantindo, assim, uma autonomia frente qualquer projeto religioso,
com a própria realidade “pós-moderna”, i. é, a própria presença do mal trazida
pela desequilibrada antropologia autônoma de valores, subjugando o próprio
homem num sistema fechado e auto-destrutivo. Isto em si é para o homem uma
contradição, já que, o mal passa a ser um escândalo, pois desumaniza aquilo que
deveria elevar a própria condição humana.
Fazendo referência bíblica,
Agostini (2002) tenta explicitar as várias facetas do mal. A primeira
orientação é de que todas as ações, tanto boas quanto ruins, deveriam vir de
Deus; a segunda direção é que o mal é um castigo divino fruto da desobediência a
Deus; a terceira seria que o mal provém de Satanás, como tentação para o homem;
a quarta diz respeito à própria inerência do mal no homem com as literaturas
sapienciais; e a quinta e a que de fato perpetuou a tradição cristã é o mal
como pecado original.
Por pecado original Agostini (2004, p. 109)
explica: “Um mistério nos envolve desde o inicio da criação, chamado de concupiscência
por São Paulo. É algo que existe antes mesmo do ato voluntário (moral) e que,
para Santo Agostinho, chama-se de pecado
original”. Por isso a necessidade da graça, como já postulada por Agostinho
para que o ser humano alcance a salvação. Com efeito, o pecado:
[...] remete para uma ação humana
praticada no uso da liberdade; ela nos faz lembrar um ser responsável. Podemos
dizer que alguém pecou quando praticou o mal por própria vontade, enquanto
sujeito livre e responsável. Trata-se, então, do mal moral. E a pessoa de fé,
por sua vez, sabe que o pecado é uma recusa do Amor de Deus, um afastamento da
graça trazida por Jesus Cristo. Este pecado pode ser tanto pessoal quanto
social. Na verdade, todo pecado tem algo de pessoal e de social ao mesmo tempo.
O pecado pode estar ligado aos meus atos, às minhas atitudes e às opções
fundamentais de minha vida; é sempre um “não” a Deus, também quando esse “não”
quebra ou machuca a fraternidade com o próximo, na família, na comunidade ou na
sociedade (AGOSTINI, 2004, p. 110).
Mais uma vez, a teologia refletida
pelo autor retoma alguns conceitos básicos da tradição magisterial, e não
poderia ser diferente, já que está profundamente ligado à dogmática
soteriológica do homem. O que se nota de acréscimo e por conta da própria
dialogicidade com a modernidade, é o aspecto da responsabilidade. O pecado
remete ao conceito de responsabilidade. Não basta a liberdade, mas uma
liberdade responsável. Esta novidade trazida por Agostini (2004) subjaz em uma
fenomenologia profunda, na qual um fenômeno só tem sentido se interligado à
outros fenômenos, ou seja, só se pode falar de liberdade quando é vista junta
da responsabilidade, pois esta implica necessariamente a condição de liberdade
do outro.
Contudo, ainda assim, a
antropologia utilizada continua atrelada à fé e as questões religiosas. Isto
não responde aos anseios da problematicidade em questão. Neste
sentido, faz-se necessário um estudo da ontologia antropológica, no intuito de
tentar abarcar o ser humano e tentar traçar relações deste com o pecado.
No tocante a questão do pecado,
faz-se como necessidade antever a condição limite de sua possibilidade. As
análises acima, dizem respeito tanto das condições fenomenológicas quanto as
condições impostas pela fé. Com efeito, cabe agora perguntar por aquilo que dá
condições de existência ao pecado, i. é, aquilo que é anterior ao pecado: o
próprio homem.
Para falar do homem, muitas são
as ciências que se atrevem. Contudo, estas se restringem ao âmbito cultural ou
comportamental antropológico, não se atendo ou não tendo condições de postar a
pergunta que leve o homem ao homem. É por isto que, quer se abordar a ontologia
antropológica, não em sua totalidade, mas no modo de ser do próprio homem, como
forma de atingir aquilo que se chama de totalidade.
Mediante Marconetti (2004, p.1)
“o homem é aquele que pode perguntar” e está caracterizado pela autoconsciência
e pela autocompreensão. Mesmo tendo como categorias intrínsecas, tematizá-las,
é tarefa que possui em si riscos de interpretações errôneas, redutivas e
deformantes quando se quer achar a essência do homem. Neste sentido é que o
autor defende a importância de uma antropologia filosófica como forma de
abarcar os fenômenos possíveis encontrados no homem constituídos em si por um
sentido de totalidade capaz de dar a ele uma globalidade exigida.
A tentativa de se chegar a
essência humana por um viés fenomenológico único é em si mesmo a
particularização daquilo que a própria complexidade humana se constitui:
[...] quanto mais por parte de
um único fenômeno pretende-se abraçar a totalidade do homem, tanto mais se
apresenta o perigo de uma visão arbitrária e unilateral que falsificava o fenômeno
na sua inteireza. Para fugir a este perigo é necessário que seja levada em
consideração e seja valorizada uma multiplicidade de fenômenos da auto-experiência
humana. Por si, não há nenhum fenômeno absolutamente privilegiado: ser homem
significa uma pluralidade essencial de dimensões, nas quais experimentamos o
mundo e nós mesmos. Apesar disso o homem é uma realidade concreta: a
pluralidade funda-se na unidade de estrutura que ele (o homem) está em
condições de acolher. Mas também a multiplicidade dos fenômenos manifesta o
sentido do homem só a partir do todo, isto é, à luz da autocompreensão do homem
já pressuposta (MARCONETTI, 2004, p. 6).
Sendo assim, Marconetti (2004)
percebe que na busca pela essência humana a metodologia recomendada é o Círculo
Hermenêutico Antropológico, no qual o homem interpreta a si mesmo. De outro
modo pode dizer: não há como com o homem sair de si mesmo de modo a olhá-lo
objetivamente. Resta então, aceitar o círculo hermenêutico entre o homem
histórico, concreto, que experiencia a si mesmo e ao mundo e aquilo que de fato
o subjaz como estrutura ontológica transcendental.
Para tanto, há requisitos
exigidos, do ponto de vista metodológico, imprescindíveis na determinação do
mesmo, são: “um elemento fenomenológico e um elemento transcendental”
(MARCONETTI, 2004, p. 7). Do primeiro, não se trata meramente de uma descrição
de dados, mas da pergunta pela condição de possibilidade do próprio fenômeno. E
do segundo a compreensão da transcendentalidade a partir da própria pergunta do
primeiro. Tem-se assim:
[...] o homem experimenta e
compreende a si mesmo, isto é, a sua abertura ao mundo e ao ser: [sic] POIS O
HOMEM REALIZA A SI MESMO NO HORIZONTE DO SER, SE EXPERIMENTA COMO SUJEITO à
exigência do incondicionado na sua procura da verdade e do bem, no encontro com
o outro homem e na relação religiosa com o obsoluto e pessoal fundamento divino
do ser (ser humano) (MARCONETTI, 2004, p. 8).
Esta postura frente ao homem
reflete uma compreensão metafísica da antropologia, não desvinculada deste, mas
a partir de sua compreensão no ser e a partir do ser:
[...] o homem não diz só
relação ao ser, mas é ser, ser finito. O que ‘eu sou’ ? É a pergunta
fundamental transcendental, porque na pergunta está compreendida a resposta ‘EU
SOU’ é a primeira pessoa singular do indicativo presente do verbo ser: eu sou,
declara que o homem é ser, ser humano, ser pessoa (ontologia personalista)
(MARCONETTI, 2004, p. 8).
É assim que o autor identifica o
homem, como um ser, ser humano, ser pessoa, ser existente, ser histórico, ser
finito, ser aqui e agora. Um ser aberto ao ser, um ser finito que transcende ao
infinito e se relaciona com o Absoluto.
Mas, afinal, o que toda esta
reflexão tem haver com o pecado? Muita coisa. Ao identificar o homem e a
humanidade com o ser, automaticamente se percebe que este em sua condição
existencial é finito e limitado e se abre ao Absoluto, que é o próprio Deus.
Esta condição existencial fundante do ser humano engendra necessariamente um
devir em processual e dialético no processo de abertura ao Absoluto. Isto
significa que todo homem tem sem si a tendência da finitude, ou seja, da imperfeição.
Toda imperfeição, do ponto de vista da moral acarreta o mal moral, o que obriga
a concluir no pecado. Mas ora, afinal, se temos por essência a condição
fundante do erro, pela limitação ontológica, como pensar em pecado, se é fruto
da vontade livre e responsável? Se já somos condicionados ontologicamente a
termos uma existência finita e limitada, como pensar em sentimento de culpa,
por aquilo que não se tem culpa, já que não há como não pecar? Será que há
liberdade suficiente para decidir pelo não-erro?
v
Com
estas indagações, há de se traçar algumas considerações a respeito do pecado.
Primeiramente, este continua sendo ainda um problema, do ponto de vista
racional, ainda discutível. Em segundo lugar, os pressupostos para o pecado, i.
é, uma antropologia vinculada à divindade e uma vontade livre e responsável,
como sinal de recusa da vontade de Deus, são pontuações restritas apenas ao
campo da fé, já que existem outros modelos tanto de antropologias quanto de
concepções de liberdade. Em terceiro, a questão do mal, na qual é tocante ao
pecado é um problema delicado que também não se tem uma solução satisfatória.
Sabe-se que o mal metafísico não é uma realidade e que o mal físico é
fenomenológico; contudo o mal moral, acaba sendo a identificação de pecado. Em
quarto, no que se trata da moral, a moral cristã, que é uma dentre tantas, se
arroga com pretensões éticas, ocasionando em si uma problemática não resolvida.
Sobra algo então? A possibilidade, ainda, é se recorrer aos conteúdos da fé,
que garante no pecado a lógica exata de fundamentação e mecanismo de graça e
salvação. Pode-se ousar dizer que, é necessário existir o pecado para que
exista Deus, pois, se não existisse, as pessoas buscariam a Deus?
Ø ABBAGNANO,
N. Dicionário de Filosofia. São
Paulo: Mestre Jou: 1970.
Ø
AGOSTINHO. As
Confissões. 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1980 (Os Pensadores)
Ø
AGOSTINI, Nilo. Ética Cristã e Desafios Atuais. Petrópolis: Vozes, 2002.
Ø
AGOSTINI, Nilo. Moral Cristã. Temas para o dia-a-dia. Nesta hora da graça de Deus.
2 ed. Petrópolis: Vozes, 2004.
Ø
AZPITARTE, Eduardo Lopez et. alii. Práxis Cristã. Moral Fundamental. 2 ed.
São Paulo: Paulinas, 1983. V.1.
Ø
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. Co-edição Vozes/Paulinas/Loyola/Ave-Maria,
1993.
Ø
MARCONETTI, Luiz. Quem Eu sou? Antropologia Filosófica. Texto de Sala de aula, 2004.
Ø RAHNER, Karl y VORGRIMLER, Herbert. Diccionario Teologico. Barcelona: Herder, 1966.
Ø SUNG,
Jung Mo. Se Deus existe, por que há
pobreza?: A fé cristã e os excluídos. São Paulo: Paulinas, 1995 (Atualidade
em Diálogo).
[1]
O que se quer dizer com tríplice base da teologia é: Sagradas Escrituras
(Revelação), Tradição e Magistério.
[2]
O pensamento tomista é aquele que foi estabelecido por Tomás de Aquino e
defendido tanto nas correntes medievais quanto modernas. Seus pontos principais
são: a) Doutrina da relação entre razão e fé; b) Doutrina da analogicidade do
ser; c) Doutrina do caráter abstrativo do conhecimento; d) Doutrina que a
individuação depende da matéria assinalada; e) Dogmas da Trindade e Incarnação.
(ABBAGNANO, 1970, p. 926)
[3]
Corrente gnosiológica, cujo seu principal representante é Agostinho.
[4]
Vide o tópico “Controvérsias Modernas”.
[5]
Marxismo: ideologia política que encontra o seu programa no Manifesto dos
Comunistas publicado por Marx e Engels em 1847. Tal ideologia pode resumir-se
nos pontos fundamentais seguintes: 1° a dependência da personalidade humana em
relação à sociedade historicamente determinada a que ela pertence; 2° a
dependência da estrutura de uma sociedade historicamente determinada das
relações de produção e de trabalho; 3° o caráter permanente e necessário da
luta de classes; 4° a necessária e inevitável passagem da sociedade capitalista
para a socialista e desta para a comunista (ABBAGNANO, 1970, p. 150).
[6]
Sistema metafísico de fundamentação dos processos psíquicos, reunidos por
Sigmund Freud (ABBAGNANO, 1970, p. 774).
[7]
Corrente de pensamento moderna que antevê a existência frente à essência.
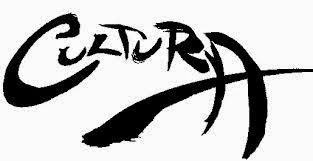
Nenhum comentário:
Postar um comentário